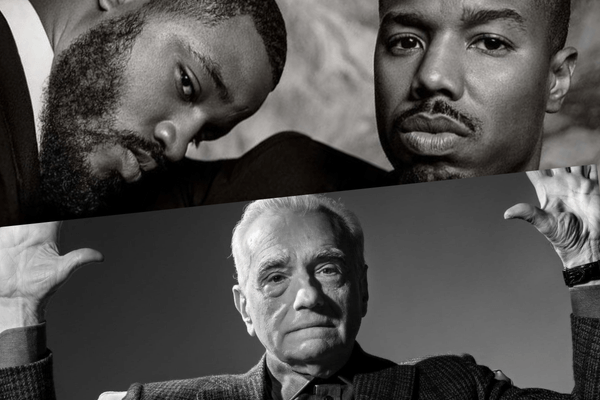Vamos começar pelo começo. “Arte” tem origem na palavra latina “ars”, que significa “técnica”, “habilidade”, “conhecimento” ou “maneira de fazer”. Obviamente, há arte na forma com que alguém dá nó numa gravata borboleta ou prepara um feijão perfeito. Contudo, passamos a compreender “arte” como algo muito além da mera habilidade.
Um pintor pode, por exemplo, dominar todas as técnicas necessárias para reproduzir uma paisagem à perfeição. De fato, legiões de artistas eram obrigados pela Academia a aprender estas técnicas – e, no entanto, apenas um punhado de nomes prevaleceram em séculos de história da arte. Por quê?
Há forte influência de um sistema que beneficia, sobretudo, homens brancos e poderosos, mas o que separa um pintor medíocre como Adolf Hitler de um mestre como Van Gogh? Não é a aptidão em reproduzir a realidade por meio do controle das ferramentas, mas a capacidade do artista de imbuir algo de si próprio em sua obra – ou seja, a expressão subjetiva de um ponto de vista particular.
Van Gogh pode ter morrido na pobreza em 1890, mas as suas obras ainda nos comovem em pleno 2025. Podemos admirar a sua habilidade, é claro, mas o holandês não é considerado um gênio pelas pinturas “bem feitas”. Na arte, algo de dentro deve se manifestar do lado de fora – na pintura ou no cinema, é dar contorno ao desforme; na literatura ou na música, é relatar o indizível.
Um artista é talentoso de verdade quando estabelece um diálogo franco com o seu interlocutor. Quem aprecia a obra tem um vislumbre quase instantâneo de como é ser outra pessoa – “ser” de maneira visceral, sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa. E quando podemos nos reconhecer no outro, mesmo que este outro pertença a outro continente ou era, a arte se torna perigosa.
Desse modo, os bilionários declararam guerra à arte e aos artistas – com a onipresença da inteligência artificial, promovida como uma suposta “democratização da arte” (sendo que até um miserável como Van Gogh conseguia pintar). A arte só depende da subjetividade humana, algo que a máquina simula ter, mas não tem. A máquina não expressa nada de pessoal, seu “diálogo” é falso.
Com a degradação da arte, criar será apenas um hobby dos mais ricos, pois viver da arte se tornará (ainda mais) inviável. É uma estratégia dos mais poderosos para eliminar as vozes dissidentes do discurso cultural, além de desencadear demissões em massa como a que acaba de ocorrer no jornal Washington Post, propriedade de Jeff Bezos.
Afinal, a arte exige reflexão, tanto do lado de quem cria como da parte do interlocutor. E exercitar o pensamento crítico nos leva a questionar o que antes aceitaríamos como um fato dado – questionamento este que, se fosse mais praticado, desmontaria a nossa economia.
Em 2016, por exemplo, Elon Musk disse que as primeiras missões tripuladas para Marte aconteceriam em até seis anos. Pensar de maneira crítica é farejar o embuste. Musk é um homem de negócios que depende do hype em torno das empresas – ele não sabe do que está falando e não deveríamos dar atenção a ele.
Quando percebemos, enfim, que o rei está nu (e na lista de emails de Jeffrey Epstein), passamos também a contestar circunstâncias aparentemente imutáveis. É por meio da imaginação que concebemos uma sociedade mais justa, uma vida melhor. São as artes que nos instigam a contemplar o diferente.
Como Ursula K. Le Guin bem disse:
“Vivemos no capitalismo. Seu poder parece inescapável. Assim como o direito divino dos reis nos parecia. Qualquer poder humano pode ser resistido e alterado por seres humanos. A resistência e a mudança começam muitas vezes na arte, e muitas vezes em nossa arte, na arte das palavras.”
Em uma conferência recente, a socióloga Tressie McMillan Cottom afirmou:
“Quando tentam nos vender essa ideia de que o futuro já está decidido, é porque não tem nada decidido[…]Essa promessa de um futuro tomado pela inteligência artificial é apenas a ansiedade coletiva que os mais ricos e poderosos têm de quão bem irão poder nos controlar no futuro. Se eles conseguirem fazer com que a gente aceite que o futuro já está decidido, de que a IA já chegou, de que o fim já chegou, então nós iremos criar isto para eles.”
Além de provocar a reflexão e de inspirar mudanças, um outro aspecto perigoso da arte é a sua capacidade de mobilizar. Como disse mais acima, o artista estabelece um diálogo franco – ele interliga uma pessoa à outra. Os bilionários não querem salas de cinemas lotadas; não querem aglomerações apreciando um show ou indo ao museu.
Eles estão dispostos, inclusive, a perder dinheiro para assegurar que cada um de nós permaneça dentro de casa, isolados e assustados, consumindo apenas o que os seus algoritmos nos cospem de volta – tudo para nos manter cativos, defendendo os interesses deles como se fossem os nossos.
A inteligência artificial oferece a personalização de livros, músicas, filmes etc. conforme o gosto do freguês. Assim, “arte” não seria mais uma expressão do artista (uma expressão que reflete a realidade da experiência humana que é compartilhada por todos nós), mas um produto criado especificamente para agradar o consumidor – um único consumidor.
Arte, porém, não é o domínio da técnica nem marketplace. Ela só vale a pena quando nos conecta a alguém, seja o artista em si, o estranho sentado ao lado no cinema ou a multidão que canta em uníssono numa arena. A arte dá sentido à nossa existência – como pessoas e como sociedade.