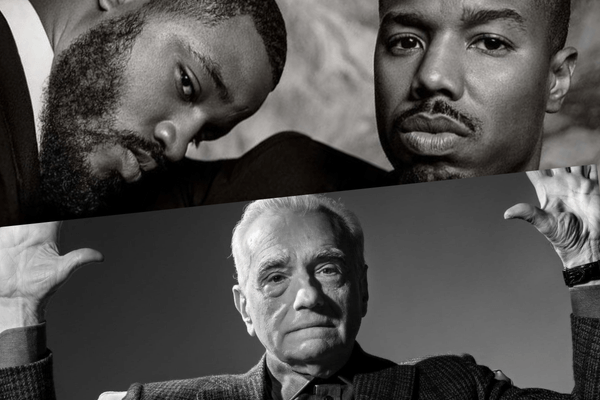Ontem, a atriz Claudia Cardinale faleceu em sua casa, aos 84 anos. E o comediante Jimmy Kimmel retornou ao seu programa de entrevistas, após um imbróglio com o governo do presidente Donald Trump. Os dois fatos não parecem relacionados, mas vou lançar um argumento ao estilo “seis graus de separação de Kevin Bacon”.
Nascida na Tunísia, Cardinale trabalhou com alguns dos maiores mestres do cinema, os italianos Luchino Visconti, Federico Fellini e Sergio Leone. Com Leone, especificamente, ela fez a obra-prima do chamado “spaghetti western”, apelido dado aos faroestes produzidos na Itália durante os anos de 1960 e 1970.
Os faroestes italianos eram, é claro, inspirados nos faroestes americanos de décadas anteriores. “No Tempo das Diligências”, um dos mais reconhecidos até hoje, é de 1939; “Rastros de Ódio”, que se encerra com uma porta sendo fechada, tanto literal como simbolicamente, ao caubói de John Wayne, é de 1956.
Os italianos, contudo, possuíam características particulares, tanto no estilo como no teor. Não posso deixar de citar, por exemplo, as trilhas sonoras de Ennio Morricone – experimentais, talvez, como a música de Hermeto Pascoal, também falecido há pouco. Quanto ao teor, há um consenso geral de que os personagens italianos eram mais dúbios do que os americanos.
Abro um breve parênteses para dizer que os faroestes americanos não são todos bobos. John Ford era, de fato, um diretor fascinante (“Batman – O Cavaleiro das Trevas”, do endeusado Christopher Nolan, bebe de “O Homem que Matou o Facínora”, de 1962), mas o gênero também foi, por repetidas vezes, simplificado para um público infantiloide.
Prova desta simplificação é a pista visual que determinava quando um homem era bom ou mau – chapéus brancos para os mocinhos, chapéus pretos para os bandidos. Nada sutil. Já no universo de Leone, porém, há mais tons de cinza. Afinal, entre o bom e o mau, há também o feio (me siga para mais piadas cinéfilas).
Em “Era Uma Vez no Oeste”, Cardinale interpreta Jill, uma ex-prostituta que viaja até o oeste para se reencontrar com o marido, um imigrante escocês com quem se casara cerca de um mês atrás. Chegando na propriedade, batizada de “Sweetwater”, ela descobre que o marido (e seus futuros enteados, crianças pequenas) foram todos brutalmente assassinados.
Não vou explicar toda a trama. Espero que alguém, mesmo que seja uma única alma solitária, vá assistir ao filme depois desta recomendação minha. Para o meu argumento, basta dizer que a vida de Jill é entrecortada por homens encardidos e corrompidos que praticam toda sorte de crueldade em nome dos próprios interesses, sempre passando por cima dela.
Ela era uma prostituta, seu sustento dependia da sua rendição ao desejo masculino. O próprio casamento era uma forma de recomeçar a vida com uma “reputação limpa” – para isto, ela também dependia de um homem, mas de um homem gentil. No velho-oeste, no entanto, os homens cruéis, os encardidos, superam os gentis…
O tempo todo, Jill é associada à água. O nome da fazenda é “água doce”, ela se banha após ser violentada para se livrar da sujeira dos homens, e acaba oferecendo água àqueles que trabalham em sua terra – os imigrantes que, de fato, construíram os Estados Unidos. O termo “faroeste”, afinal, vem de “fazer o oeste”. Esta é a verdadeira história do oeste.
A trama considerada principal, que envolve os personagens interpretados por Charles Bronson e Henry Fonda, não importa tanto assim – quer dizer, importa para ilustrar a sanguinolência na origem de um país que, até hoje, exporta a sua ideologia de violência ao resto do planeta (até mesmo em conferências da ONU). Mas a vida depende da água. Jill é a água. Ela sempre recomeça, renova e renasce.
Cardinale interpreta Jill não como uma coitada fragilizada, como uma derrotada entregue às circunstâncias ou como uma mártir que aceita qualquer desgraça porque “assim são as coisas”, mas como uma força da natureza que, mesmo quando é abusada, segue adiante – com ou sem aqueles que abusaram dela. Ela segue adiante.
Jimmy Kimmel, todavia, já não é tão grandioso assim. É evidente que o retorno de seu “talk show”, depois da punição pelos comentários que fez sobre a morte do nazista, é uma vitória. Um programa bobo de entrevistas pode não parecer muito importante (de fato, não é), mas é gravíssimo sempre que um governo abusa do seu poder para silenciar detratores.
A início de conversa (digo eu depois de sei lá quantos parágrafos), os comentários que o apresentador fez nem foram ofensivos. Ele disse apenas que a direita estava fazendo o máximo para tirar algum proveito político da morte, sendo que o responsável não era de esquerda, mas “um dos seus”. O assassino pertencia a um grupo que achava que a vítima não era nazista o suficiente, o extremo da extrema direita.
Após um boicote bem-sucedido à Disney, dona da emissora que produz o programa, Kimmel retornou sob aplausos. E desperdiçou os holofotes fazendo um discurso ridículo. Com a voz embargada, disse que nunca teve intenção de zombar da morte de alguém, que a violência nunca é a resposta e que o assassino era apenas um louco, que não representa lado algum.
Também aproveitou para agradecer às figuras de direita, como o senador Ted Cruz, que protestaram publicamente a censura de Kimmel – mas entenda, eles não fizeram nada além da obrigação. A defesa da liberdade de expressão não é um favor, não é um agrado. Está naquele guardanapo velho em que a sua Constituição foi escrita. Não carece agradecimento.
A capitulação de Kimmel se justifica pelo pacto que os homens brancos têm. O nazista morto espalhava dados falsos sobre a violência cometida por jovens negros para justificar que eles fossem mortos. Mas quando um extremista branco, mais um, comete um ato de violência, ele não representa grupo algum. Agiu de maneira isolada.
Há anos (quiçá, uma década), pesquisadores perceberam que a enorme maioria desses “lobos solitários” que cometem atentados – e que são, por coincidência, homens brancos – têm histórico de violência contra mulheres. Esse padrão, já amplamente registrado, não representa uma ideologia, mas a mera presença de uma personagem feminina num videogame qualquer é “woke”.
Historicamente, nossas vidas (como mulheres, como pessoas que não seriam consideradas brancas nos Estados Unidos, como neurodivergentes, como aqueles que não nascem com a orientação sexual “padrão”) são entrecortadas por esses homens brancos que se veem como protagonistas da existência. Nós somos embaixadores de grupos inteiros. Eles não, eles têm direito à subjetividade.
Mas que bom que Jimmy Kimmel retornou ao seu programa de opinião em horário nobre – que, por lá, é dominado por homens brancos chamados Jimmy.